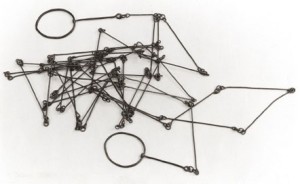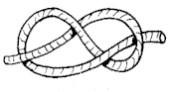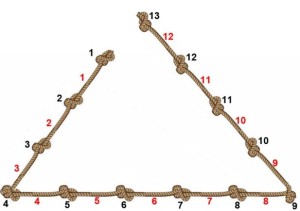Uma palavra sobre a alquimia

Cabe aqui uma palavra sobre a alquimia. Simultaneamente arte, técnica e ciência do espirito, essa misteriosa ocupação tem desafiado a argúcia dos historiadores, provocado perplexidade nos cientistas e alimentado a imaginação dos amadores do insólito desde tempos imemoriais. Fonte inesgotável de tesouros literários, rendeu algumas obras primas da literatura mundial, entre os quais o clássico de Rabelais, As Aventuras de Gargântua e Pantagruel. Segundo alguns autores, os romances do Graal são alegorias alquímicas que procuram transmitir aos adeptos da arte de Hermes o seu magistério. Inspirou também famosos contos de fadas, como O Gato de Botas, Ali Babá e os Quarenta Ladrões, O Pequeno Polegar, As Viagens de Guliver, etc.e algumas boas obras modernas como as estórias de Harry Potter, O Alquimista, de Paulo Coelho, os Cem Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques e outros. Segundo Pawels e Bergier, mais de cem mil livros foram dedicados a essa prática, o que no mínimo a eleva a fenômeno cultural dos mais significativos.[1]
Somente essa constatação já nos parece suficiente para que a alquimia não seja levada na conta de pura divagação de espíritos fascinados pelo fantástico. Hoje não se tem muita dúvida que se trata de uma técnica, cuja origem está na prática da metalurgia antiga - prática essa, como bem demonstrou Ambelain - de caráter sagrado. Tanto na China, com os taoístas, como no Egito dos faraós, com os sacerdotes de Heliópolis, ou na Grécia clássica, com os filósofos naturalistas, foram as técnicas metalúrgicas, aliadas ao pensamento mágico que elas naturalmente evocam, que deram origem á alquimia. Daí ela se organizou como ciência da natureza e prática espiritual para o desenvolvimento de uma consciência superior.
Os trabalhos de René Alleau e Mircea Eliade demonstraram com muita propriedade que a alquimia, desde a mais remota antiguidade, é uma arte iniciática, associada aos mistérios da natureza.[2] Por isso era praticada pelos sacerdotes egípcios e hindus em seus templos, não só como forma operativa de produção de artefatos preciosos, mas também como disciplina do espírito para atingir o êxtase espiritual. Mais tarde, os filósofos taoístas e gregos a elevaram á nível de disciplina acadêmica, organizando-lhe uma epistemologia própria, fazendo dela uma arte especulativa e empírica ao mesmo tempo. [3]
No Egito essa arte era própria dos ourives, mestres na fabricação do “ouro falso”, como eram chamados os artefatos fabricados com metais comuns, submetidos a banhos dourados para imitar o ouro. Essa atividade era praticada sob a supervisão direta dos sacerdotes e tida como “arte sagrada”, comparável á arquitetura. Durante muitos séculos os gregos tentaram descobrir o segredo de tais banhos, e foi no curso dessas tentativas que eles desenvolveram a forma operativa da alquimia, especulando primeiro e depois realizando experiências de laboratório, anotando e analisando os resultados. Com isso deram á essa prática, em principio uma arte empírica, um caráter de ciência experimental.
Foi na Grécia, já no século II da era cristã, que apareceu o primeiro tratado de alquimia, escrito por um filósofo gnóstico de nome Zózimo. Mais tarde, Jâmblico e Pelágio, mais filósofos do que cientistas, ambos ligados ao pensamento esotérico, retomaram o trabalho de Zózimo, vinculando a alquimia aos Mistérios Egípcios e a tradição hermética, com a qual ela ficou identificada desde então. Associando os símbolos alquímicos á tradição esotérica, fizeram da alquimia uma ciência do espírito, e mais tarde, quando ela se integrou á cultura medieval , passou a ser também a Art d’Amour, pela interação do sonho alquímico com as tradições da Gennete [4]
Foi, portanto, a partir dos trabalhos de pensadores gnósticos, como Jâmblico, Pelágio, Olimpiodoro e outros, que a alquimia ganhou o status de arte hermética, já que foram aqueles autores que divulgaram a lenda que tais conhecimentos teriam sido legados á humanidade por Hermes Trismegisto, sacerdote que teria vivido três encarnações no antigo Egito, e em cada uma delas legado aos homens os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da civilização. Na primeira encarnação Hermes teria ensinado as técnicas de agricultura, na segunda a arte da escrita e na terceira a metalurgia, com os segredos a ela ligados, entre eles o da fabricação do ouro e da realização espiritual através da prática dessa arte. Para os gregos, Hermes foi sucessivamente o deus Osíris, o deus Toth e o próprio Hermes grego; houve inclusive quem o visse como encarnação de Moisés e Salomão, já que eram muitas as tradições que atribuía ao rei israelita a invenção da pedra filosofal.
Entretanto, os maiores divulgadores da alquimia foram realmente os árabes. Pelos menos, são muçulmanas ou mouriscas as mais fortes tradições e referências á respeito dessa prática, em épocas anteriores ao século XII, quando ela penetrou na Europa e caiu nas graças dos “espíritos de categoria”, na expressão de Pawels e Bergier.
Os métodos da Alquimia
Especializando-se nas artes da metalurgia, os alquimistas procuravam aprender os processos pelos quais a natureza produz os minerais. Com esse conhecimento, trabalhando em seus laboratórios, poderiam repeti-los e realizar transmutações de metais simples em metais preciosos. Graças a esse trabalho, muitas descobertas no campo da química, da medicina e da metalurgia foram realizadas.
A possibilidade de transformar um metal comum em ouro não era um sonho, uma fantasia de loucos possuídos pelo delírio metafísico, como muitos autores racionalistas têm definido, mas sim uma prática desenvolvida a partir de uma teoria, que, se pelo menos não era exata, nada tinha de loucura. Os alquimistas acreditavam que os metais eram encontrados na natureza na forma perfeita e imperfeita. Os imperfeitos eram aqueles alteráveis pela ação da natureza. Oxidavam-se, corroíam-se, alteravam-se pela ação do fogo e outros elementos. Os perfeitos eram inalteráveis e resistentes a esses elementos. Entre os primeiros listavam o ferro, o chumbo, o estanho, o cobre; entre os segundos, a prata e principalmente o ouro.
Todos os metais, segundo essa teoria, eram formados por dois elementos, que eram o enxofre e o mercúrio, encontrados em quantidades variáveis em cada metal segundo sua categoria. O que conferia a cada metal a qualidade de perfeição era a pureza desses dois constituintes. O ouro era constituído por uma grande quantidade de mercúrio e uma pequena quantidade de enxofre, ambos muito puros. O estanho, o ferro, o cobre, ao contrário, eram constituídos por grandes quantidades de enxofre e pequenas quantidades de mercúrio, ambos mal fixados, ou impuros. Então, para se alterar as propriedades de um mineral impuro, tornando-o puro, era preciso submetê-lo a um processo de eliminação de suas impurezas, fazendo-o passar do estado imperfeito para o perfeito.[5]
O processo pelo qual um metal ordinário pode ser transformado em ouro é explicado por Ouspensky como sendo uma transmutação da matéria em seu estado físico para um estado “astral”, por meio da sua desmaterialização. Dessa forma o metal desmaterializado pode ser “modificado” pela vontade do operador, retornando ao mundo físico como outro metal, no caso, o ouro. Esse seria o processo pelo qual os alquimistas realizariam as suas transmutações. Convenhamos que se trate de uma explicação um tanto imaginosa para uma operação que ninguém sabe se um dia foi sequer realizada. Só vale citá-la mesmo em razão do simbolismo que encerra.[6]
Na verdade, no plano físico, a crença que está no cerne da prática alquímica é simples e pode ser explicada a nível operacional. Trata-se simplesmente de isolar, pela ação do fogo e pelas diversas recombinações da sua estrutura, o chamado “DNA” de um determinado elemento da natureza, que segundo a crença dos alquimistas, conteria a chamada “alma” dos metais. Isolada essa “alma” e aplicada em novas combinações atômicas, o metal original mudaria de estrutura.[7]
[1] “Conhecem-se mais de cem mil livros ou manuscritos alquímicos” , escrevem aqueles autores. “Essa imensa literatura, á qual se consagraram espíritos de categoria, homens importantes e honestos, essa imensa literatura que afirma solenemente a sua adesão a fatos, a realidades experimentais, nunca foi explorada cientificamente. O pensamento reinante, católico no passado, racionalista atualmente, manteve em redor desses textos uma conspiração de ignorância e desprezo. Existem cem mil livros que possivelmente contém alguns dos segredos da energia e da matéria. Se isso não é verdade, eles pelo menos assim o proclamam” Pawels e Bergier- O Despertar dos Mágicos pg. 101
[2] Mircéa Eliade - Ferreiros e Alquimistas – Ed. Flammarion,1977
[3] Bernard.Rogers- Descobrindo a Alquimia pg. 28
[4]Gennete é palavra francesa que designa a instituição da Cavalaria.
[5] Na imagem, o alquimista moderno em seu laboratório. Fonte: alquimia.blogspot.com
[6] P. D Ouspensky,- Um Novo Modelo do Universo. pg. 92
[7] Serge Hutin. História da Alquimia. São Paulo, Cultrix, 1987.
João Anatalino